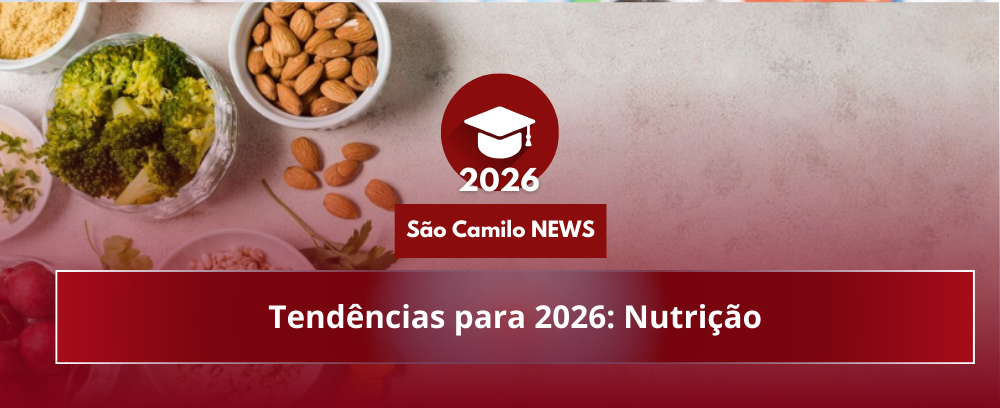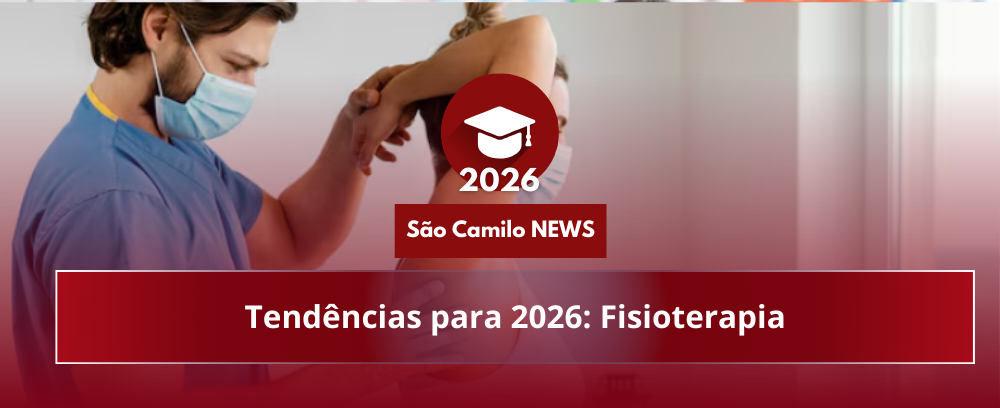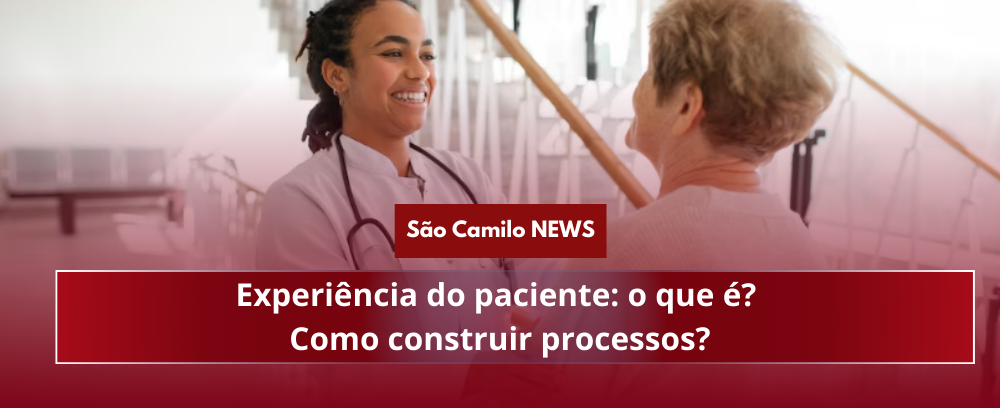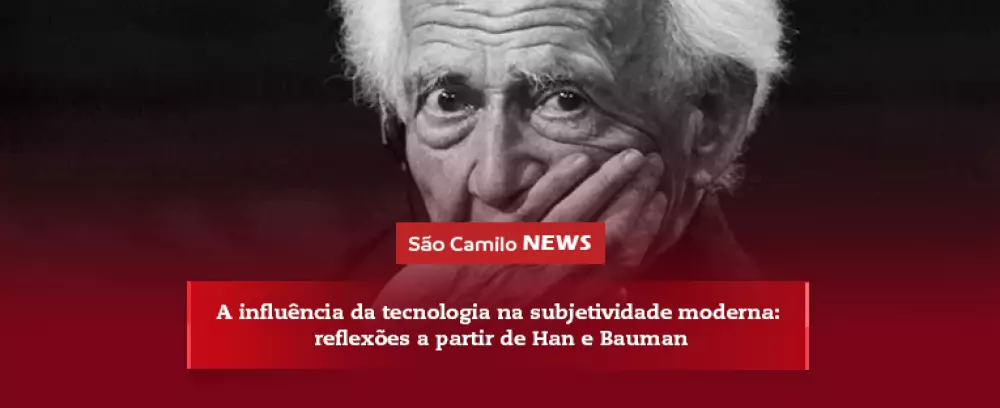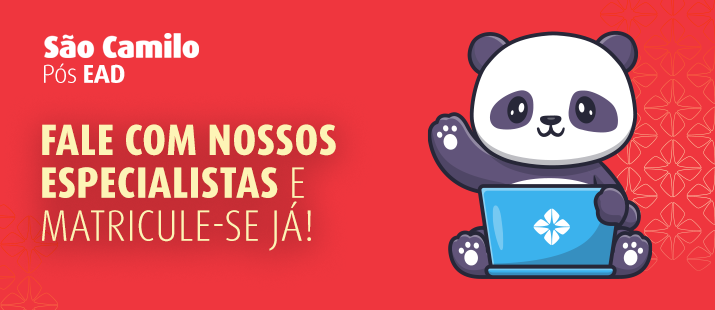A tecnologia está tão entrelaçada ao cotidiano que já não conseguimos distinguir onde termina o humano e começa o digital.
Das mensagens instantâneas aos algoritmos que preveem nossos desejos, a vida moderna é marcada por uma dualidade: ao mesmo tempo que nos conectamos globalmente, enfrentamos uma crise de profundidade em nossas relações e em nossa própria identidade.
Como explicar essa transformação? O que está em jogo quando trocamos olhares presenciais por emojis e histórias reais por highlights de redes sociais?
Neste artigo, vamos explorar como smartphones, redes sociais e inteligência artificial estão reescrevendo o que significa ser humano e como resistir à erosão do autêntico em meio ao digital.
O que é a subjetividade do indivíduo?
A subjetividade é o conjunto de experiências, emoções e valores que definem quem somos. Na modernidade, ela não é estática: é construída em interação com o meio. A tecnologia, porém, acelerou essa dinâmica. E isso tem tido impactos bastante significativos.
Segundo um estudo do Panorama de Saúde Mental, o uso excessivo das redes sociais está relacionado a cerca de 45% dos casos de ansiedade em jovens de 15 a 29 anos.
Para o pensador Zygmunt Bauman, essa é a essência da "vida líquida": identidades flexíveis, adaptáveis ao feed do momento. Já Byung-Chul Han critica a "autoexploração", onde nos tornamos empresários de nós mesmos, otimizando cada aspecto da existência para likes e métricas.
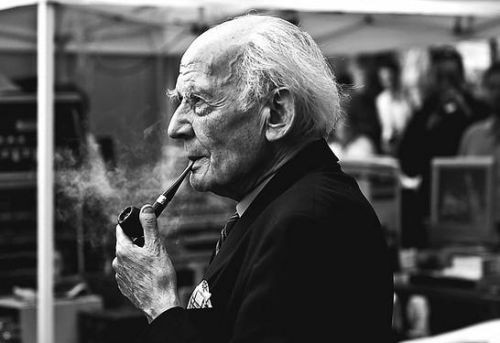
O que diz o pensamento de Byung-Chul Han e Zygmunt Bauman?
A crítica de Byung-Chul Han à sociedade contemporânea revela uma transição radical nos mecanismos de controle social. Enquanto no passado regimes autoritários operavam por meio da repressão explícita ("não poder"), hoje vivemos sob o que Han chama de "poder poder". Ou seja, uma dinâmica sutil, mas opressiva, em que nos tornamos nossos próprios carcereiros.
Em sua obra Sociedade do Cansaço, ele argumenta que a autoexploração substituiu a coerção externa: trabalhamos incansavelmente, perseguimos a felicidade como meta obrigatória e nos expomos incessantemente nas redes sociais, tudo em nome de uma produtividade que nunca se esgota.
Essa busca obsessiva pela perfeição, aliada à cultura da transparência, transforma a intimidade em espetáculo. Nas plataformas digitais, compartilhamos stories de viagens ideais e corpos esculpidos, mas escondemos angústias e fracassos, criando uma dicotomia entre o "eu real" e o "eu performático".
O resultado é um esgotamento coletivo, físico e emocional, que Han define como "burnout civilizacional", em que a exaustão não é um acidente, mas um sintoma estrutural do sistema.
Já Zygmunt Bauman, em sua teoria da modernidade líquida, descreve um mundo em que tudo (relações, carreiras, identidade) perde solidez e se torna fugaz. Para ele, a tecnologia acelerou a liquefação dos vínculos: relacionamentos são reduzidos a conexões descartáveis, como mensagens efêmeras do WhatsApp ou matches no Tinder.
Em Amor Líquido, Bauman compara os laços afetivos da atualidade a "objetos de consumo": usamos pessoas como produtos, trocando-as ao primeiro sinal de conflito ou tédio. Em entrevista ao El País (2016), ele destacou que as redes sociais facilitam a fuga do confronto, essencial para relações autênticas: "Sem discordância, não há diálogo; sem diálogo, não há intimidade".
Essa aversão ao conflito gera conexões superficiais, nas quais a segurança do like substitui a vulnerabilidade do encontro presencial. Enquanto Han fala da pressão por sermos "empreendedores de nós mesmos", Bauman alerta para a commoditização das emoções, em que até o amor se torna um recurso gerenciável por algoritmos.
Ambos os pensadores convergem em um ponto: a tecnologia não é neutra. Ela remodela nossa subjetividade, incentivando a ditadura da positividade e a ilusão de liberdade. Enquanto rolamos feeds infinitos, somos levados a acreditar que estamos escolhendo, quando, na verdade, somos conduzidos por lógicas de engajamento e consumo que esvaziam a experiência humana de profundidade e significado.
A modernidade líquida e o impacto da tecnologia nas relações modernas
Vivemos em uma era em que 95% da população brasileira está conectada à internet de acordo com o IBGE, e algoritmos ditam desde o que consumimos até como nos relacionamos. Essa hiperconexão redefine não apenas nossos hábitos, mas a própria estrutura da subjetividade humana.
Filósofos como Byung-Chul Han e Zygmunt Bauman oferecem lentes críticas para entender como a tecnologia molda nossa identidade, relações e percepção de mundo. Enquanto Han fala da "sociedade do cansaço" e da ditadura da positividade, Bauman descreve a "modernidade líquida", onde vínculos são frágeis como um like.
Cultura da transparência e o controle social
Han também critica a "sociedade da transparência", em que tudo é exposto, mas nada é verdadeiramente revelado. Para ele, a privacidade é o último refúgio da liberdade.
Já Bauman via na vigilância digital uma nova forma de controle: "Big Data é o Big Brother do século XXI". Empresas como Meta e Google sabem mais sobre nossos desejos do que nós mesmos, moldando comportamentos por meio de anúncios personalizados.
Tecnologia e a busca por autenticidade
Paradoxalmente, quanto mais filtros usamos, mais ansiamos por autenticidade. Plataformas como o BeReal (que limita postagens a 2 minutos por dia) surgem como reação à cultura do fake, mas logo são cooptadas pela lógica da performance.
Han propõe que a arte e o silêncio são antídotos. Em seu livro A Salvação do Belo, ele defende que a contemplação estética restaura a profundidade perdida. Já Bauman sugeria a "ética do cuidado": priorizar diálogos presenciais e vulnerabilidade.
Como ter relacionamentos saudáveis nesse contexto
A desintoxicação digital é uma prática importante para equilibrar a vida moderna e o uso da tecnologia. Uma maneira eficaz de iniciar essa desintoxicação é estabelecer "zonas livres de celular" em seu ambiente, como durante jantares ou nos quartos.
Isso ajuda a criar momentos de desconexão e presença real, permitindo que você se concentre nas interações pessoais e desfrute do ambiente ao seu redor sem as distrações constantes das notificações e da internet.
A privacidade seletiva é outra prática essencial no mundo digital. É importante lembrar que nem tudo precisa ser postado nas redes sociais; algumas experiências podem e devem ser reservadas apenas para você.
Ao manter certas vivências em privado, você protege sua intimidade e preserva momentos especiais que não precisam ser compartilhados com o mundo todo.
Priorizar a qualidade sobre a quantidade nas comunicações também é fundamental. Em vez de tentar manter 50 conversas superficiais ao longo da semana, foque em 2 a 3 conversas profundas e significativas. Essas interações mais substanciais contribuem para um fortalecimento real das relações, promovendo um maior entendimento e conexão com as pessoas que realmente importam.
Por fim, a autoconsciência no uso da tecnologia é fundamental. É importante se questionar regularmente: "Estou usando a tecnologia, ou ela está me usando?" Esse questionamento ajuda a manter um controle saudável sobre o uso dos dispositivos e garante que você esteja utilizando a tecnologia de forma consciente e benéfica, sem se tornar refém dela.
Ao adotar essas práticas, você pode alcançar um equilíbrio mais saudável entre a vida digital e a vida real, promovendo bem-estar e uma melhor qualidade de vida.
Conclusão
A tecnologia não é vilã, mas seu uso acrítico nos torna prisioneiros de uma subjetividade superficial. Como alertava Bauman, "a liberdade de escolher é também a liberdade de errar". Cabe a nós resgatar a profundidade em um mundo de aparências.
Para filósofos e estudiosos, a obra de Han e Bauman oferece ferramentas para desvendar os paradoxos da era digital. Cursos como Filosofia ou grupos de estudo sobre ética digital são caminhos para quem quer mergulhar nesse debate urgente.